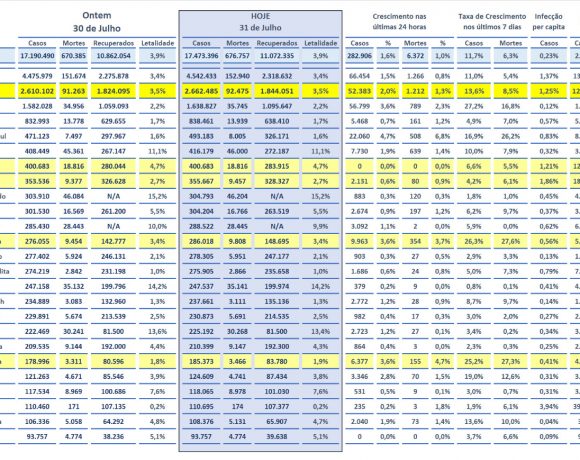Estava eu, posto em relativo sossego, de quarentena, quando de repente Fernando Morais me surpreende com um convite: responder por escrito, em prazo curto, a uma pergunta ao mesmo tempo instigante e indiscreta: “O que você faria se fosse ministro da Fazenda do Brasil hoje?”.
Hesitei em aceitar o convite pela simples razão de que não me sinto à altura do desafio. Procrastinei alguns dias, depois pedi mais prazo, até que ele aplicou o xeque mate: “O Lula me ligou hoje para saber se você já tinha mandado o texto”. E jurou que não estava invocando o nome do ex-presidente em vão.
Capitulei. E estou aqui agora, espremendo o cérebro para dar conta do recado. Naturalmente, o exercício teórico, ainda que válido, só pode ser levado adiante cum grano salis. Antes de entrar na questão peço vênia ao Fernando para introduzir uma hipótese simplificadora: vamos admitir que o presidente da República fosse o próprio Lula. Sem essa hipótese, ou alguma outra na mesma linha geral, a resposta seria muito difícil, talvez impossível.
Outro prolegômeno: noto que a pergunta menciona “Fazenda” e não “Economia”. Bom que assim seja. Ministério da Economia, como no governo Collor e no atual, resulta da fusão da Fazenda com outros ministérios e equivale a centralizar as decisões da área econômica em mãos de uma única pessoa, um superministro. Não deu certo nas vezes em que foi tentado no Brasil: com Delfim Neto (governo Figueiredo), Zélia Cardoso de Mello (governo Collor) e não dará certo agora, tudo indica, com Paulo Guedes. O excesso de atribuições acaba atrapalhando o superministro e sua equipe. E a existência de um superministro tende a privar o presidente da República de um saudável debate de ideias e propostas dentro da área econômica do governo.
Vamos então à minha resposta. Tempo e espaço não permitem apresentar senão as linhas gerais, mesmo assim de forma telegráfica e exemplificativa. O que temos hoje? Uma economia em recessão e ameaçada de ser jogada em uma grande depressão. A crise internacional desencadeada pelo novo coranavírus tem peculiaridades, como se sabe. Porém, ela apresenta um ponto em comum com as grandes crises econômicas anteriores: uma queda vertiginosa, em espiral, da demanda agregada de consumo e investimento do setor privado, isto é, abandono ou adiamento de despesas de consumo e investimento, retração generalizada da oferta de crédito e aumento abrupto da preferência por liquidez, entre outros aspectos.
Diante disso, não há outra opção senão adotar, de forma rápida e agressiva, políticas compensatórias. Isso significa basicamente promover rápida expansão do gasto fiscal, do crédito público e da liquidez na economia. Requer, portanto, ação simultânea e coordenada das autoridades fiscais e monetárias e dos bancos federais, sob a liderança do presidente da República e com a devida supervisão do Poder Legislativo e vigilância do Poder Judiciário.
Com a rápida expansão da despesa pública e da emissão de moeda, o resultado inevitável será um aumento substancial da dívida em pouco tempo. Cresce a dívida pública stricto sensu e também o estoque da base monetária. Esta última tem a vantagem de não gerar serviço da dívida; a dívida propriamente dita carrega juros e tem (quase sempre, isto é, excetuadas as perpetuidades) um cronograma de devolução do principal.
O aumento da preferência por liquidez abre espaço para a emissão de moeda primária. O Banco Central não só pode como deve ampliar substancialmente a base monetária. Se o aumento da demanda do público por moeda não for acomodado, o resultado será deflação do nível geral de preços, valorização cambial e depressão dos níveis de atividade e emprego.
No entanto, o grosso do crescimento da dívida latu sensu será na forma de dívida governamental e não de passivo monetário. O impulso fiscal requerido (essencialmente o gasto público adicional) é de grandes proporções, pois sobre a política fiscal recai a responsabilidade principal de estabilizar a demanda em momentos como este. Embora o estoque de base monetária tenha que subir consideravelmente, a principal resultante da crise sobre as finanças públicas é o crescimento do endividamento público, até porque a preferência por liquidez tende a se expressar em demanda por quase-moeda, isto é, títulos públicos de curto prazo com alto grau de liquidez.
Passada a crise restará, portanto, uma dívida pública muito maior do que aquela que tínhamos no final de 2019. O governo geral (inclusive governos estaduais, municipais e empresas estatais) começou o ano com uma dívida bruta de 76% do PIB. Não me surpreenderia se ela viesse ultrapassar a marca de 90% do PIB, em razão do aumento do déficit fiscal primário e da inevitável queda do próprio PIB. As forças contrárias a isso – não só a ampliação da base monetária, mas também a queda dos juros incidentes sobre a dívida pública – não seriam capazes de evitar o rápido crescimento da razão dívida/PIB.
Pode-se prever tranquilamente que, no pós-crise, reaparecerá o clamor pela austeridade fiscal, pelo corte de gastos e pelas reformas “estruturais” do Estado. Cabe ao ministro da Fazenda, nesse segundo momento, evitar aperto fiscal prematuro, pois isto dificultaria ou até impediria a reativação da economia. Qualquer revisão das políticas fiscal e monetária deve ser gradual e cautelosa para não prejudicar as chances de recuperação da economia. Será recomendável, além disso, apresentar também regras fiscais críveis e mais inteligentes do que as vigoravam no Brasil antes da crise – a meta de resultado primário e a regra simplória do teto de gastos. Mas deixo de lado o pós-crise e volto à emergência de 2020.
Para não inviabilizar a recuperação da economia no pós-crise parece-me indispensável usar de forma inteligente e justa os recursos de que dispõe o Estado nacional. Dois requisitos são fundamentais na destinação dos gastos fiscais e parafiscais, do crédito público e dos recursos injetados pelo Banco Central. Primeiro, o dinheiro deve chegar àqueles que estão de fato atravessando uma emergência e têm propensão a gastar rapidamente. Segundo, a forma de enfrentar a crise não deve agravar a concentração da economia e da renda que a crise já tende a produzir de qualquer maneira. Uma recessão é inevitável e o desemprego crescerá rapidamente. Esse crescimento do desemprego, por si só, já tende a prejudicar sobretudo os mais pobres, levando assim automaticamente a maior concentração da renda. Como o Brasil exibe uma das piores distribuições de renda e riqueza do planeta, o segundo requisito é tão importante quanto o primeiro, embora receba muito menos destaque no discurso oficial e na mídia tradicional.
A economia, disciplina conhecida desde o século XIX como “ciência lúgubre” (dismal science) raramente nos proporciona alegrias. Toda marcada por tradeoffs e dilemas desagradáveis, é uma escola de desilusões. Entretanto, de vez em quando, muito de vez em quando, a economia permite matar dois coelhos com uma cajadada.
Um exemplo são as transferências sociais para assalariados e outros trabalhadores de baixa renda, que colocam dinheiro na mão de pessoas pobres e necessitadas, com propensão a consumir elevada. O seu impacto multiplicador é alto, portanto, ajudando a conter a queda da demanda. Ao mesmo tempo, os programas e transferências sociais mitigam a concentração de renda que a crise produz automaticamente pela via do desemprego e da redução dos rendimentos do trabalho. Inversamente, transferências ou diminuições de tributos que beneficiem os detentores de renda e riqueza elevadas aumentam o déficit fiscal e a dívida pública sem produzir impacto positivo apreciável sobre a demanda efetiva e piorando, de quebra, a já péssima distribuição da renda.
Uma providência urgente, portanto: reforçar os programas de transferência existentes e, se necessário, introduzir novos. No que tange ao bolsa família, por exemplo, é urgente acelerar a inclusão de famílias no programa, reduzindo rapidamente a fila que se formou nos anos recentes. Cabe, também, tornar permanente o pagamento de um 13º para os beneficiários da bolsa. Deve-se buscar, ainda, ampliar a renda básica de emergência e transformá-la no pós-crise em um programa permanente, na linha do que tem sugerido Eduardo Suplicy.
Essas e outras providências do lado do gasto podem ser complementadas por diminuição da carga tributária sobre os setores de baixa renda – outra forma eficiente de estimular a demanda com justiça social. Por razões simétricas, uma possiblidade técnica e socialmente atraente para cobrir uma parte dos gastos públicos adicionais, minorando o aumento do endividamento do governo, é instituir ou aumentar tributação sobre elevadas rendas e riquezas. A história das emergências, não tanto no Brasil, mas em outros países, está repleta de exemplos de tributação solidária, conhecida às vezes como capital levies, ou de empréstimos compulsórios sobre aqueles que têm grande potencial de contribuição.
Do lado da moeda e do crédito, é fundamental coordenar a ação do Banco Central não só com o Tesouro, mas também com os principais bancos públicos federais, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica e o BNDES. Dos bancos privados, pouco ou nada se deve esperar. Na crise, o dirigismo econômico e financeiro precisa prevalecer. O Banco Central, ao oferecer auxílio a instituições financeiras, deve estabelecer contrapartidas. Pouco adianta encharcar os bancos de liquidez, sem definir contrapartidas. Por exemplo, bancos e empresas que recebam auxílio devem ser obrigados a suspender o pagamento de dividendos a acionistas e bônus aos executivos.
No frigir dos ovos, entretanto, os bancos privados vão correr todos para baixo da cama, e de lá não sairão até o fim da crise. O crédito disponível virá do Banco Central e dos bancos públicos, pressupondo-se evidentemente que o ministro da Fazenda, o presidente do Banco Central e os presidentes dos bancos federais trabalhem em consonância, com o propósito de evitar que a economia mergulhe em uma depressão.
A atuação do Banco Central deve incluir a redução da taxa Selic para níveis baixíssimos, nunca vistos no Brasil. Com a inflação bem abaixo do piso da meta e a economia despencando, os juros básicos devem ficar próximos de zero em termos reais. Isso ajuda a recompor as finanças públicas, ao reduzir o custo da dívida, mas acarreta riscos do lado cambial. O diferencial de juros internos e externos, que ainda ajudava um pouco a sustentar o real, se tornará praticamente irrelevante.
A questão cambial é espinhosa e pode se revelar o calcanhar de Aquiles de um país como o Brasil, que não emite moeda de liquidez internacional. Uma coisa é praticar “quantitative easing” e jogar os juros básicos para zero (ou até abaixo de zero) nos Estados Unidos e em outros países ou regiões de moeda forte. Outra completamente diferente é adotar políticas monetárias ultra expansionistas em economias como a brasileira, cuja moeda é estritamente nacional e potencialmente vulnerável.
Assim, é mais do que nunca fundamental preservar as reservas internacionais do país. A depreciação cambial em relação ao nível pré-crise é inevitável e bem-vinda do ponto de vista da competitividade internacional da economia e do ajuste das contas externas. Com a economia deprimida e o ambiente deflacionário, a depreciação do real precisaria ir muito longe para ameaçar o controle da inflação. As reservas podem ser mobilizadas, claro, para intervenções no mercado cambial. Contudo, é imprescindível usá-las de forma judiciosa, substituindo quando possível vendas no mercado à vista por operações com derivativos como swaps cambiais. O nível de reservas requerido para fins de precaução cresceu muito com a crise. Propostas de utilização das reservas para outros fins (diminuição da dívida bruta, financiamento ou garantia de investimentos públicos etc.), que já eram discutíveis, tornaram-se agora perigosas. Não se pode descartar que a economia brasileira volte, como no passado, a ser ameaçada por uma crise de balanço de pagamentos, desencadeada por movimentos de capitais de residentes e não-residentes. Nesse tipo de cenário, medidas de controle cambial e dos fluxos de capitais podem se tornar necessárias.
Paro, leitor, e releio o que escrevi. Fiquei razoavelmente contente e não quero acrescentar mais nada. O texto parece fluir bem. Sinto-me, confesso, até um pouco mais confiante, pensando que talvez esteja, sim, a altura do desfio. Mas foi apenas um instante, um breve devaneio. Logo me lembrei que o cemitério da política está cheio de economistas que chegaram a Brasília com planos coerentes e elaborados e ideias aparentemente sensatas.
Enfim, espero que os pontos apresentados possam ajudar um pouco no debate das alternativas de que dispõe o Brasil para enfrentar esta que se configura como a maior crise já experimentada por todas as gerações de brasileiros vivos.
(*) Paulo Nogueira Batista Jr. é economista, foi vice-presidente do Novo Banco de Desenvolvimento, estabelecido pelos BRICS em Xangai, e diretor executivo no FMI pelo Brasil e mais dez países. Acaba de lançar pela editora LeYa o livro O Brasil não cabe no quintal de ninguém.
E-mail: [email protected]
Twitter: @paulonbjr
YouTube: youtube.nogueirabatista.com.br
Leia também: