Por Julián Fuks*
Venho de duas gerações consecutivas de exilados políticos. Avós que partiram da Romênia quando o antissemitismo ameaçava fulminar tudo o que tinham, como logo fulminou seus pais, irmãos, tios – desses avós herdei o sobrenome judeu, de seu destino ganhei meu nome argentino. Pais que partiram da Argentina quando o terror de Estado se fez sinistro, abatendo amigos, colegas, companheiros – deles herdei algum inconformismo, de seu destino ganhei a língua em que escrevo. Nunca na vida sequer cogitei que minha sina viesse a se parecer à deles, que forças obscuras pudessem me impelir a deixar o Brasil. Hoje, pela primeira vez em 36 anos, me pergunto se esse medo será tão disparatado assim.
De súbito, embora nada seja súbito quando se trata de história e de política, vejo se realizar no país onde nasci uma grande distopia. O Brasil elegeu como presidente um defensor da tortura, da milícia, do extermínio, que não se cansa de exaltar em seus discursos a letalidade da polícia e das forças armadas. Nessa não-ficção distópica, ele parece prestes a nos conduzir a uma viagem no tempo, mas, sintomaticamente, como em tantos lugares do mundo, o enredo dessa história nada tem de futurista. A viagem que Jair Bolsonaro propõe tem como destino um passado que nunca superamos, décadas sombrias que não nos abandonam nem nos pesadelos.
Esse futuro carregado de passado é feito de inúmeras promessas: de perseguição dos adversários políticos, extinção de todo ativismo, criminalização dos movimentos sociais como organizações terroristas. É feito de acenos autoritários: um vice-presidente que naturaliza autogolpes, um deputado eleito, filho de Bolsonaro, a afirmar que para fechar o Supremo Tribunal Federal basta um soldado e um cabo. Tão extremo é esse ímpeto que um fenômeno insólito se cria: milhões de eleitores convictos torcem para que seu candidato eleito nunca cumpra as suas promessas.
O futuro carregado de passado é feito também de opressões presentes, indiscretas e corriqueiras. Pessoas que temem sair de casa de camiseta vermelha, atentas a uma possível reação dos amarelos. Famílias que se rompem pelo radicalismo dos defensores da família. Homossexuais e transgêneros que disfarçam em espaços públicos sua voz, seus gestos de afeto, para que não se perceba a suposta inadequação, seus corpos desobedientes. Militantes, jornalistas, professores, ameaçados constantemente. Como meus pais em outro tempo, ouço com espanto os muitos amigos que não conseguem dormir, que choram ao ler notícias, que já se põem a contemplar longínquos horizontes.
Não vivemos, porém, o império do desalento. Contra a distopia que nos cerca, muitos compreendemos nestas últimas semanas que só existe um antídoto possível: a recuperação de alguma utopia. Depois de anos de relativa letargia, ou de imobilidade ante sucessivas crises, econômica, institucional, jurídica, articulam-se enfim diversos grupos de resistência. Assinam-se manifestos, organizam-se campanhas, criam-se redes de apoio a possíveis vítimas. Juntos vamos percebendo que não estamos tão vulneráveis, que não seremos os principais atingidos, que o assombro se espalha bem mais vívido nos bairros pobres, nas comunidades periféricas. Isso não nos tranquiliza e não nos detém: o movimento tem como cerne a solidariedade e a empatia.
As armas não nos interessam, as armas são os símbolos deles, os objetos em que Bolsonaro e seus mais radicais seguidores investem sua libido. A resistência será pacífica ou não será, será democrática ou não será. Em combate às armas, de forma inesperada e espontânea parece ter surgido um novo símbolo: os livros. Milhares foram às urnas no último domingo carregando livros dos mais diversos autores, Orwell, Woolf, Lispector, Drummond. Em oposição aos livros únicos que Bolsonaro incensa – a Bíblia e a autobiografia do torturador Brilhante Ustra –, o que valorizam seus críticos é a multiplicidade de discursos e perspectivas.
A cultura, então, ganha estranha centralidade nos tempos por vir. Nos termos da distopia existe, é claro, a promessa de abatê-la, extinguir o Ministério da Cultura, interromper fontes oficiais de financiamento, acabar com obras que afetem a suposta sensibilidade da maioria, que firam os valores da inefável família brasileira. O que parecem não entender é que, por importantes que sejam os financiamentos, a cultura não definha se um governo a combate, faz-se em vez disso urgente e incisiva.
Reunidos e alertas, escritores, cineastas, artistas, músicos brasileiros temos discutido a necessidade de uma arte pungente, que não ignore as brutalidades do tempo, que se faça discurso e intervenção no presente. Temos discutido também outra ideia indispensável: a necessidade de toda arte, de qualquer arte, sobre qualquer coisa, em qualquer forma. Arte bonita, também, lírica, poética, contra a feiura flagrante do discurso que enfrentamos. Vamos precisar de tudo nos anos por vir. Serão anos para escrever como nunca, produzir livros, peças, filmes, fazer festa, fazer sexo, fazer filhos. Anos para fazer vida. Contra a distopia, vamos precisar de tudo.
Pelo exemplo dos meus antepassados, eu poderia temer o pior para mim e para o país que acolheu meus pais e me emprestou sua alegria, sua disposição ao sorriso. Prefiro, no entanto, viver à luz dos meus antepassados, não sob a sua sombra, e me unir quanto puder aos que cercam, fundindo com o deles o meu próprio destino.
*Julián Fuks (São Paulo, 1981) é um escritor e crítico literário brasileiro, filho de pais argentinos. Em 2012, foi eleito pela revista Granta um dos vinte melhores jovens escritores brasileiros. Em 2016, ganhou o Prêmio Jabuti na categoria romance e foi 2º colocado do Prêmio Oceanos de Literatura em Língua Portuguesa com o livro A Resistência.





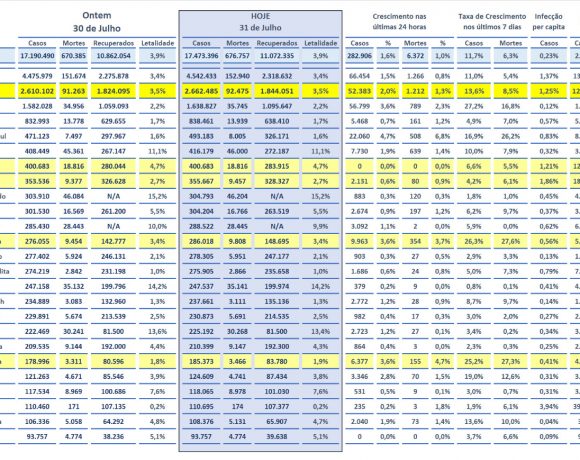

PERICLES PEGADO CORTEZ says:
Excelente texto. Não podemos permitir que eles roubem as nossas mentes! Nem que se apoderem dos nossos corpos: A Resistência!
Tarsila says:
Por favor Nocaute, qdo falarem do juizeco, se abstenham de publicar foto do mesmo e de citar seu nome. Não suporto mais ver nada desse canalha!
Lúcio Valter Fernandes Dias says:
Nem eu.